A leveza da escrita de Valter Hugo Mãe já nos capturou! Embora seja difícil interromper a leitura de A Máquina de Fazer Espanhóis, vamos avançar apenas mais dois capítulos nesta semana, até a página 71, se você tem a edição da foto, ou até a página 55, se você tem a edição da Cosac Naify.
Por Mariane Domingos e Tainara Machado
A primeira página de A Máquina de Fazer Espanhóis é um misto de surpresa e apreensão. Se este foi seu primeiro contato com a obra de Valter Hugo Mãe, é provável que tenha se assustado com o texto todo em letra minúscula e com a ausência de exclamações, interrogações e travessões. A Tainara, uma novata quando falamos do autor português, logo se questionou: “será mais um livro a entrar na lista de longas tentativas e quase nenhum avanço?”
Passadas mais duas ou três folhas, porém, esse sentimento desvanece. O temor de a leitura não fluir é substituído por um encanto com a sua prosa quase lírica, por uma vontade repentina de não parar mais de ler A Máquina de Fazer Espanhóis. Hugo Mãe tem a admirável capacidade de conquistar o leitor com uma escrita sofisticada e nada óbvia.
A estrutura de sua narrativa é inventiva. Aos poucos, somos apresentados a António, um senhor de 84 anos que está na sala de espera de um hospital, ouvindo a conversa interminável de Cristiano, um falante funcionário do local. Laura, a esposa de António, havia dado entrada na emergência depois de um mal estar, a princípio nada alarmante, dada a sua idade já avançada.
António não consegue se concentrar nas teorias político-sociais de Cristiano acerca do sobrenome Silva, das falácias da liberdade e da identidade europeia. Tudo isso parece bobagem diante da angústia da espera por notícias de Laura. As lembranças de António são um respiro para as falas ininterruptas e entusiasmadas de Cristiano. Somos transportados do presente ao passado e, assim, vamos nos afeiçoando a António:
eu queria pouco saber se aos oitenta e quatro anos via a minha própria mulher como a mãe necessária para uma sobrevivência equilibrada. era certo que me atrapalhavam todas as coisas que enfrentava sozinho. já há tanto estávamos no tempo da reforma, tão habituados a depender um do outro para o gasto dos dias, a alegria dos dias, e a gestão ainda de uma certa nostalgia dos filhos. ela não gostava muito que eu o pensasse, e menos ainda que o dissesse, mas era-me claro que não mandávamos nos filhos, crescidos e independentes, fazendo isso com que parte dos nossos papéis ficassem vazios. era como morrer para determinadas coisas.
Toda a empatia que nutrimos por António nos deixa ainda mais vulneráveis para o choque do final do primeiro capítulo. A forte e assustadora chuva que alaga o estacionamento do hospital é apenas o anúncio de um horror ainda maior: a morte de Laura. Ao mesmo tempo em que observa que seu carro não havia sido levado pelas águas e que “tudo não passara de um medo demasiado pelas coisas mais naturais da vida”, António descobre que sua esposa havia falecido. O fato vem para desmentir a reflexão. Afinal, a morte também faz parte “das coisas mais naturais da vida” e talvez o medo não fosse tão exagerado. As palavras que encerram esse início impactante do livro são a tradução perfeita do sentimento que golpeia António e, nós, leitores:
fui atacado pelo horror como se o horror fosse material e ali estivesse vindo exclusivamente para mim.
No capítulo que segue, a dor da perda é esmiuçada de maneira incontornável. Hugo Mãe, na voz de António, encontra as palavras exatas para expressar o que é a brusca aniquilação da existência, não para quem parte, mas para quem fica e tem que aprender a substituir o sentimento e as lembranças pelo vazio.
com a morte, também o amor devia acabar, acto contínuo, o nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimentos que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. (…) esse é o limite, a desumanidade de se perder quem não se pode perder. foi como se me dissessem, senhor silva, vamos levar-lhe os braços e as pernas, vamos levar-lhe os olhos e perderá a voz, talvez lhe deixemos os pulmões, mas teremos de levar o coração, e lamentamos muito, não será permitida qualquer felicidade de agora em diante.
Mais do que o luto, António tem que lidar com as consequências de uma perda na velhice. Notamos que essa fase da vida será um dos motes do livro já pela dedicatória, quando Hugo Mãe escreve: “dedicado ao meu pai, que não viveu a terceira idade”.
Ao escolher como narrador um octogenário, o escritor português nos apresenta, sem meias palavras, a realidade do envelhecimento – tema que é frequentemente romantizado para amenizar o descaso com que é tratado. António se revolta, por exemplo, contra o clichê que dissemina a morte na velhice como um processo natural para o ciclo da vida. O luto, pensa ele, faz com que se fique muito zangado, ainda mais porque na velhice o que sobra de atenção dos outros é apenas condescendência.
que se fodam. que se fodam os discursos de falsa preocupação dessa gente que sorri diante de nós mas que pensa que é assim mesmo, afinal, estamos velhos e temos de morrer, um primeiro e o outro depois e está tudo muito bem. sorriem, umas palmadinhas nas costas, devagar que é velhinho, e depois vão-se embora para casa a esquecerem as coisas mais aborrecidas dos dias. (…)
Laura era a pessoa que dava unidade e sentido à vida de António e, sem ela, o transcorrer dos dias é uma constante humilhação.
a laura morreu, pegaram em mim e puseram-me no lar com dois sacos de roupa e um álbum de fotografias. foi o que fizeram. depois, ainda nessa mesma tarde, levaram o álbum porque achavam que ia servir apenas para que eu cultivasse a dor de perder a minha mulher.
A indefinição do sujeito que toma essas atitudes – lhe colocar em um lar para idosos, retirar-lhe o álbum de foto – reflete a perda de autonomia de António. Não é apenas Laura que se foi. A simples decisão de como ele gostaria de amargar seu luto, se ele gostaria de abrir ou não o álbum para sofrer de saudades, é retirada de sua alçada.
Quem o levou até aquele lugar, que é chamado de lar mas para António representa pouco menos do que um teto, foi sua filha. Na tentativa de obter algum conforto com a decisão, ela lhe diz que ali ele ficará melhor, com novos amigos, “pessoas que lhe farão companhia todo dia”, sem lhe questionar se ele queria ou não essas amizades. António, contudo, para garantir a paz de espírito da filha, finge que está sossegado.
eu quis que ela pensasse que assim seria tudo melhor, segundo o seu desejo, porque por uma filha nos falta o ódio como deve ser. aceitei o beijo e senti-a afastar-se metro a metro, como se entre o seu e o meu corpo existisse um cordão que rebentaria quando esticado de mais. sentia-a deixar-me ali, correndo para os braços do seu marido e dos meus netos, onde a vira era feita das coisas de sempre. e com cores nas paredes, pensava eu.
No lar, nada tem cor ou jeito de casa. As paredes são brancas, vazias, desprovidas de qualquer alteração. Assim também é a rotina do lugar, com horários para jantar, dormir, acordar, almoçar, passear.
o quarto pequeno é todo ele uma cela, a janela não abre e, se o vidro se partir, as grades de ferro antigas seguram as pessoas do lado de dentro do edifício. pus-me a olhar para o chão, com ar de entregue. estou entregue, pensei.
A empatia com o personagem é quase imediata, mas o mais importante é a reflexão que Hugo Mãe nos leva a fazer. Se colocar no lugar do outro é um hábito em decadência, mas na pele de António somos obrigados a encarar o lar por outro ângulo. Quando ele descreve a ala para doentes mais próximos da morte, de frente para o cemitério, “que era o caminho”, percebemos que o que a família enxerga como abrigo confortável para o transtorno incontornável da velhice é, para quem está lá dentro, uma sala de espera para a morte. A realidade, caros leitores, nada mais é que um punhado de perspectivas.
Achados & Lidos
Últimos posts por Achados & Lidos (exibir todos)
- #livrariaspelomundo #bookstoresaroundtheworld - 19 de outubro de 2020
- [O Mestre e Margarida] Semana #14 - 14 de setembro de 2018
- [O Mestre e Margarida] Semana #13 - 8 de setembro de 2018

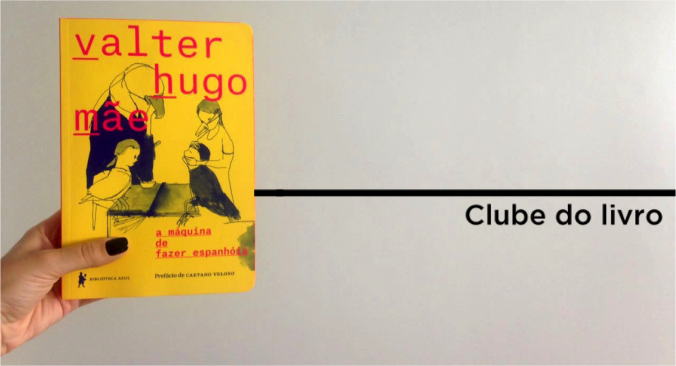
![[English ⬇️] “Estes são, acima de tudo, ensaios pessoais: pequenos por definição, curtos por necessidade”. “Intimations” é uma coletânea de ensaios de Zadie Smith escrita durante os primeiros meses de isolamento. Nem preciso dizer que essa leitura é extremamente reflexiva e tocante, certo? Tenho certeza – assim como Smith também tem, segundo o que ela mesma esclarece no prefácio – que ainda há muito a ser escrito sobre esta crise sem precedentes para nossa geração. Mas isso não muda o fato de que vale muito a pena ler este livro, especialmente se você não quer esperar mais para dar ao menos um pouco de sentido ao caos. Embora este livro não pretenda explicar nada, ele acaba fazendo isso porque Smith é incrivelmente habilidosa com as palavras. Ela consegue nomear os sentimentos que dominaram o mundo desde o ano passado, apenas observando atentamente o que a cerca e colocando suas impressões em palavras. Da tendência do bolo de banana à consciência do privilégio de classe e a reflexões sobre o assassinato de George Floyd, Smith apresenta histórias curtas com as quais você certamente se identificará, já que todos nós temos vivenciado essa terrível experiência da pandemia.](http://www.achadoselidos.com.br/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Deixe uma resposta